G.W. MACHADO
Se Adorno estava certo em afirmar que o crítico da cultura não percebe ser ele mesmo produto daquilo que critica, não é – ao contrário do que muitos postularam à época – nada surpreendente que The Square tenha sido o grande vencedor do festival de Cannes em 2017. Um filme que critica o eurocentrismo e os limites da arte e comunicação contemporâneos premiado num festival eurocentrico, elitista e cada vez mais tendencioso a um mesmo grupo de autores que de contemporâneos só tem o tempo, mas cuja mise-en-scène ainda é muito apegada ao classicismo. São o caso de nomes como Michael Haneke, Pawel Pawlikowski, e, claro, Ruben Östlund.
The Square é um filme de estrutura fechada; tudo segue, para o bem e para o mal, a lógica quadricular que o título sugere. A direção de Östlund procura sempre os quadrados (retângulos?) em cena, repartindo os frames em subdivisões cujas ações raramente operam simultaneamente. Ou seja, mesmo com a imagem dividida, é apenas um o segmento de interesse, tornando a própria repartição um exercício mais esquemático (para não dizer fetichista) do que propriamente narrativo. Daí a questão do classicismo: a tendência da mise-en-scène cinematográfica transita lenta e constantemente, mas não sem seus desvios, da estética-quadro, muito centrada em composição, profundidade de campo e decupagem mais rígida, de autores clássicos (Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Jean Renoir, etc) para a fluidez, movimentação e brevidade imagética dos cineastas mais tipicamente contemporâneos (Hsiao-hsien Hou, Claire Denis, Terrence Malick, etc).

A quadratura estrutural de The Square diz respeito, também, ao enredo, que segue muito menos uma linha narrativa constante (e, nesse sentido, mais moderno do que clássico) e mais um modelo fechado no qual os mesmos tópicos surgem e ressurgem de acordo com a forma episódica da trama. Claro que o filme tem várias linhas de desenvolvimento narrativo (o roubo do celular e suas consequências, a preparação para a exposição, as relações interpessoais do protagonista), mas seria difícil isolar uma delas como sendo a principal, ou fio condutor. Todas elas levam, entretanto, a um mesmo ponto: a falência moral da sociedade europeia contemporânea; falência essa espelhada pelo que Östlund parece considerar – seja pela estátua clássica sendo descuidadamente desalojada (e consequentemente decapitada) para a inserção de um quadrado de luz led, ou pelo artista/performancer que, ao ultrapassar os limites que seriam considerados aceitáveis para sua apresentação, ataca sua plateia apenas para depois ser linchado pela mesma – também uma falência artística.
Bizarro nesse aspecto que Östlund é exatamente aquilo que critica (sem, por outro lado, que ele exerça uma autocrítica, pelo contrário, ele como artista se isenta e aponta de forma moralista para os problemas que enxerga no mundo): seu filme é elitista, feito para ser discutido por acadêmicos, ou alguma pretensa elite intelectual que sentirá prazer em constatar num filme todos aqueles problemas sociais que ela mesma já conhecia, muito mais do que para sensibilizar multidões; ele discute privilégios dando voz para os privilegiados, e não para os marginalizados; e ele é um artista novo, contemporâneo (mesmo que sua arte não o seja), que aparentemente valoriza um ideal clássico no qual ele também não se encaixa.

Uma crítica expositiva, no qual o autor apresenta para o público toda sua pretensa sagacidade (a ilusão de iluminar o outro com o seu conhecimento, mesmo que esse seja apenas uma afirmação do lugar-comum), dificilmente escapa de ser simplesmente moralista. E exposição é, de fato, o termo que melhor define a abordagem dada à questão dos moradores de rua, que no caso europeu é diretamente ligada à questão da imigração. Essas figuras estão no filme tal como estão na sociedade: não têm participação nem num nem no outro. No filme, não são personagens, não têm envolvimento nos acontecimentos da trama, não agem fora da mecânica esperada do seu papel social... É uma exposição muda, de vitrine, que apenas reforça sua condição real sem realmente chamar atenção para os problemas dela, e sim pros problemas daqueles que os ignoram (esses, sim, objeto do filme: a mesma sociedade que frequenta os museus de arte e corre para o buffet).
Pode ser também que as observações críticas de The Square não sejam exatamente voltadas para a arte contemporânea nem para a sociedade, e sim para as instituições. Nessa linha destaca-se a representação jocosa da publicidade como catalizadora da insensibilidade social (novamente adotando uma posição clara do novo, simbolizado pelos jovens publicitários, como desvirtuação do antigo valoroso), e a própria postura do museu como instituição de negócios que primeiro adota essa estratégia midiática para depois esquivar-se da responsabilidade do posicionamento polêmico e [tentar] isentar-se dos danos. Por outro lado, se for realmente a crítica de The Square mais voltada às instituições do que ao estado atual da arte em si (o que seria estranho considerando a postura do próprio Östlund que como cineasta sempre operou dentro da lógica de curadoria dos festivais de cinema), parece que o Festival de Cannes simplesmente não entendeu o recado.

Uma crítica expositiva, no qual o autor apresenta para o público toda sua pretensa sagacidade (a ilusão de iluminar o outro com o seu conhecimento, mesmo que esse seja apenas uma afirmação do lugar-comum), dificilmente escapa de ser simplesmente moralista. E exposição é, de fato, o termo que melhor define a abordagem dada à questão dos moradores de rua, que no caso europeu é diretamente ligada à questão da imigração. Essas figuras estão no filme tal como estão na sociedade: não têm participação nem num nem no outro. No filme, não são personagens, não têm envolvimento nos acontecimentos da trama, não agem fora da mecânica esperada do seu papel social... É uma exposição muda, de vitrine, que apenas reforça sua condição real sem realmente chamar atenção para os problemas dela, e sim pros problemas daqueles que os ignoram (esses, sim, objeto do filme: a mesma sociedade que frequenta os museus de arte e corre para o buffet).
Pode ser também que as observações críticas de The Square não sejam exatamente voltadas para a arte contemporânea nem para a sociedade, e sim para as instituições. Nessa linha destaca-se a representação jocosa da publicidade como catalizadora da insensibilidade social (novamente adotando uma posição clara do novo, simbolizado pelos jovens publicitários, como desvirtuação do antigo valoroso), e a própria postura do museu como instituição de negócios que primeiro adota essa estratégia midiática para depois esquivar-se da responsabilidade do posicionamento polêmico e [tentar] isentar-se dos danos. Por outro lado, se for realmente a crítica de The Square mais voltada às instituições do que ao estado atual da arte em si (o que seria estranho considerando a postura do próprio Östlund que como cineasta sempre operou dentro da lógica de curadoria dos festivais de cinema), parece que o Festival de Cannes simplesmente não entendeu o recado.
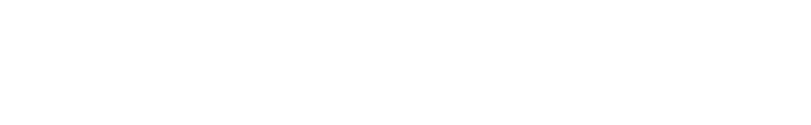



Comentários
Postar um comentário